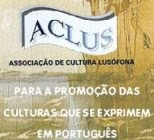Porquê e como este Dicionário?
1- Porquê um Dicionário da Lusofonia?
Nas últimas décadas do século passado, mais propriamente depois da de 60 e, sobretudo, com o início das negociações para um acordo ortográfico, cuja primeira proposta foi debatida no Rio de Janeiro em Maio de 1986, tomaram lugar cada vez mais importante nos debates culturais a palavra “Lusofonia” e o seu projecto ou projectos, uma vez que ela tem sido olhada e interpretada de maneiras diversas.
Para se chegar a este estádio de entendimento da língua portuguesa como elo de ligação de um grupo de países, viveram-se antes as relações luso-brasileiras, entre 1930 e 1975, no acompanhamento de acordos e tratados de diversos tipos que previam dar corpo a ideias que vinham do início dos anos de 1900. Já se pensava então em estabelecer uma “Confederação”, “Aliança”, “Comunidade”, “Bloco” de fala portuguesa envolvendo também as colónias de África, mas sem se dar conta do que em tais solidariedades representava a Língua.
Era, sobretudo, o espírito “atlantista” o grande elo motivador, mas rapidamente se percebeu, pelo resultado pouco significativo das intenções gerais, e dos tratados com o Brasil que, de todas as tentativas para a constituição de uma comunidade de nações, o vínculo mais forte era o da própria língua, usada por uns como materna, por outros como oficial. Conclusão, entretanto, já tirada por outros países, nomeadamente pelos de língua francesa.
É que uma união feita na base da geografia, do regime político ou da religião obriga a alinhamentos de diversos tipos, de carácter transitório, ao passo que a do uso de uma língua comum é permanente, não obriga a nada e tudo possibilita.
Essa vantagem da língua tornou-se mais forte e persuasiva logo que se verificou que nem a existência de uma língua oficial prejudicava as línguas nacionais de cada país, nem estas aquela, antes se completavam nos diversos planos da comunicação em geral, e dos usos internacional e científico.
Assim, foi ganhando terreno, a pouco e pouco, a ideia de Lusofonia, corporizada pelos oito países e regiões que têm ou tiveram a língua portuguesa como língua materna, oficial, ou de adopção, conforme se expõe na entrada “lusofonia” deste Dicionário.
A ideia de se organizar o Dicionário Temático surgiu nos anos 80, no grupo que dirigia e integrava o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa ( ICALP), sucessor do Instituto de Alta Cultura, e que hoje se chama Instituto Camões. Projecto esse herdado especialmente pela Associação de Cultura Lusófona (ACLUS) que, entretanto, no ano de 2000, se constituiu e sediou na Faculdade de Letras de Lisboa.
Não foi possível, nessa fecunda década de 80, pôr em prática o sonho do Dicionário, mas o tempo amadureceu as ideias, e as mudanças políticas decorrentes sobretudo da independência das colónias portuguesas de África, em 1975, e a adopção do português como língua oficial e, em certas áreas, materna, nesses novos países, criaram as condições propícias para a formação da Lusofonia e, consequentemente, de iniciativas que a favorecessem.
Assim, os elementos nucleares da equipa ICALP dos anos 80 e da ACLUS actual lançaram-se à tarefa de contribuir, ainda que modestamente, para a teorização e prática da ideia lusófona, através de iniciativas diversas de que o Dicionário Temático da Lusofonia (DTL) é a expressão maior.
Ideia e projecto que assentam no convencimento de que, nesta hora de globalização e multiculturalismo, a consolidação dos laços linguísticos e histórico-culturais de séculos, que unem um grupo de países, os ajuda a fazerem face às pressões exteriores de outros grupos, descaracterizadoras da sua diferença valorativa.
2- Estrutura e guia de consulta. Os autores.
É vasta a diversidade das matérias tratadas, privilegiando-se, no conjunto, quanto respeita à língua e à cultura partilhada e própria.
Perspectiva que resulta da própria natureza da Lusofonia, porque foi a língua que juntou os interlocutores para tudo o que entenderem decidir, incluindo deliberações de carácter económico e político, pelo que o primeiro esforço a fazer é o do reforço da comunicação e do diálogo.
Sob o aspecto prático, como Dicionário que é, o DTL foi organizado respeitando-se o processo universalmente adoptado para facilitar a consulta: o da ordem alfabética construída sobre as palavras-chaves dos temas. Ordem alfabética que se estende também a alguns desenvolvimentos de uma mesma entrada, no caso especial dos países e regiões .
Nas bibliografias finais de cada verbete, os apelidos antecedem os nomes.
Para mais rápida consulta dois índices alfabéticos, um de vocábulos relativos aos temas, e outro de siglas para a identificação dos autores reforçam a ordenação.
Por outro lado, como se trata de um dicionário temático de tipo enciclopédico, que não exige sequenciação cronológica ou geográfica, é posto à disposição do leitor, o organigrama que presidiu à concepção geral e às escolhas temáticas, com o objectivo de se evidenciar a lógica da multiplicidade das entradas, sempre entendidas na perspectiva dos interesses lusófonos, directos ou indirectos.
Quanto aos autores, e obedecendo a uma prática hoje entendida como essencial em qualquer enciclopédia ou dicionário enciclopédico, todas as entradas são assinadas, da autoria de especialistas universitários e de diversificadas formações, acrescidas de outras, em número ínfimo, redigidas pelo nosso Secretariado, por serem de simples divulgação informativa.
Explicitando as iniciais que encerram as entradas e respectiva bibliografia, uma lista de autores se acrescenta no fim do volume, com a indicação sintética da sua formação e funções, acompanhada de uma bibliografia de três obras ou artigos considerados importantes nessa bio-bibliografia . Prática esta que tem por objectivo não só apresentar o autor, mas também servir de indicação para possíveis diálogos com os leitores.
O elevado número e diversidade de autores -cerca de 350-, representando os oito países e regiões lusófonas mais importantes (Galiza, Goa, Macau, Casamansa), entrou dentro dos objectivos metodológicos programados desde o início, pois queríamos que fossem os especialistas naturais dos países e regiões em causa a redigirem os seus próprios verbetes. A este grupo juntaram-se também investigadores internacionais especializados em temas complementares.
Em matérias não portuguesas, só quando não foi possível ou exequível (dada a dificuldade de comunicações intercontinentais ou a ausência de estruturas de investigação, especialização e outras capazes de dar resposta), é que recorremos a redactores portugueses.
Por outro lado, das diversas formações dos autores e da consequente complementaridade de pontos de vista, às vezes diferentes, resultou uma situação compósita e de alguma assimetria, que novas edições tornarão menos acentuada. E ainda o benefício de uma diversidade complementar de vozes e sensibilidades culturais, traduzida em diversidade de estilos e de norma linguística. Sem prejuízo da objectividade, esta diferença, em relação a publicações semelhantes, acrescentou à informação um valor de testemunho, sobretudo nas entradas que não são de simples teor informativo por indiciarem perspectivas dignas de serem tidas em conta, porque vividas em situações problemáticas. Nesta mesma óptica, os autores dos verbetes tiveram toda a liberdade de expressão, pelo que os textos, no que toca aos seus conteúdos e pontos de vista são da exclusiva responsabilidade dos mesmos.
É este Dicionário, segundo julgamos, a primeira tentativa de sistematização de informações múltiplas sobre o que é e caracteriza a Lusofonia, em processo de construção.
Estamos certos de que, em edições futuras, o natural debate que certamente acontecerá sobre pontos de vista e temas aqui tratados, contribuirá para uma melhor e mais completa visão dos temas e problemas expostos, até porque continuaremos a acompanhar e aperfeiçoar este empreendimento, de sua natureza vasto e complexo.
Dentro da mesma lógica, regozijamo-nos com as excelentes colaborações da Faculdade de Letras de Lisboa, e do Instituto Camões o qual, durante três anos, financiou a estruturação desta obra colectiva, e promovo a sua edição, como prestigiada Instituição que cumpre o seu objectivo de ajudar a construir a Lusofonia.
Fernando Cristóvão